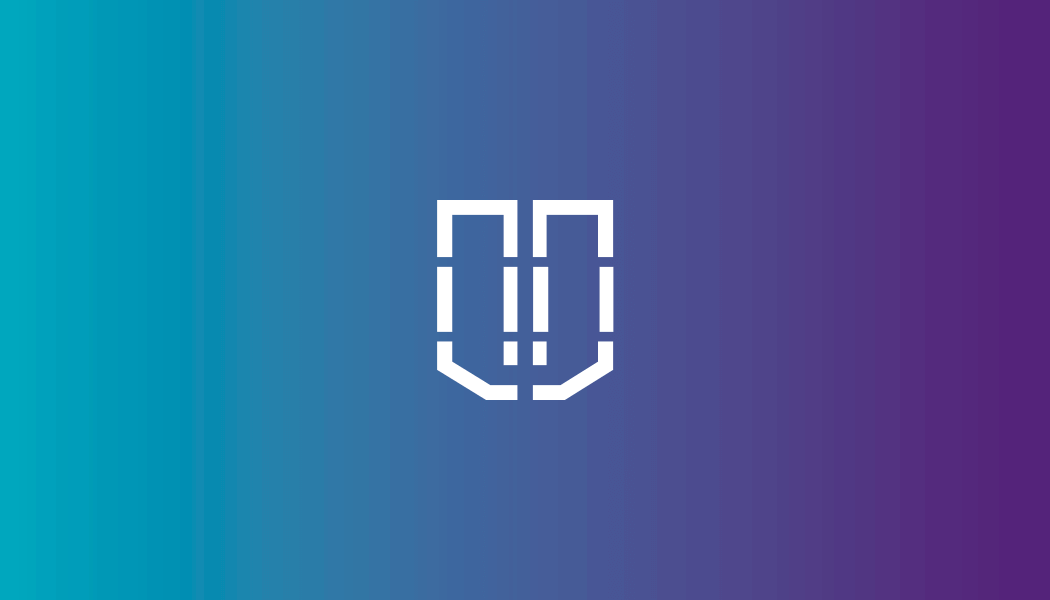Na sociedade atual, o suicídio representa um fenômeno grave e, por isso, muito e necessariamente estudado. As estatísticas (dados da OMS) sobre a questão do suicídio, ainda antes da pandemia da Covid-19, já eram alarmantes: no mundo mais de 1 milhão de pessoas que se suicidavam por ano e as tentativas de suicídios subiam a 20 milhões. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicidava. É inacreditável que o suicídio mate mais que os homicídios e as guerras. O suicídio parece mesmo ser a “marca registrada” do “niilismo” do nosso tempo. Fala-se em fenômeno de “massa”, em “epidemia”, em “maré”. É um verdadeiro “flagelo social”. Acresce, segundo a OMS, que essa praga aumentou nos últimos anos e provavelmente continuará aumentando. Tudo isso não surpreende, considerando a sociedade atual marcada pela angústia e a depressão que facilmente abrem a via para a tentação do suicídio. Seja como for o suicídio é um grave problema social.
A gravidade do suicídio na sociedade moderna e pós-moderna já foi percebida com grande acuidade por Émile Durkheim no final do séc. XIX. Ele chegou a qualificar a sociedade de “suicidógena”. Nos seus estudos já apontava o “niilismo” como fator determinante do suicídio. Mais, chega à conclusão que o suicídio é um “sintoma” revelador e ao mesmo tempo o “resultante” do “mal-estar geral” da sociedade atual, da “perturbação profunda”, ou melhor, da “doença coletiva” que a atinge.
De fato, observa-se na civilização atual, como já fizera Durkheim, este dado “niilista”: o suicídio é banalizado e desculpalizado. É tido como um drama meramente pessoal, que cada um resolve como entende. O interdito “não matarás”, que, como entende Freud, tem inclusive por função controlar nossa “pulsão de morte”, perdeu sua antiga e bíblica função.
Ademais: reivindica-se a eutanásia como “direito de morrer com dignidade”, sobretudo no caso das vítimas de doenças degenerativas e dos idosos atingidos por dores tidas por intoleráveis. Mas, a eutanásia, cuja defesa se difunde como sombra nefasta em nossa cultura, não é na maior parte das vezes, uma forma de suicídio? Na Suíça há uma clínica de suicídio, a Dignitas, para onde aportam candidatos de vários países e não falta sequer champagne para “celebrar o desenlace”. Na França existe a “Associação pelo direito de morrer com dignidade”. Possui milhares de sócios provenientes de dezenas de países. Nos Estados Unidos da América, Derek Humphrey, fundador da “Sociedade pelo direito de morte”, publicou o livro “Saída Final”, receituário de suicídio com fármacos. Na Alemanha existe a “Sociedade da Eutanásia para uma Morte humana”, com milhares de sócios que pagam taxa de admissão e anuidade, e com direito à publicação quadrimestral da revista “Vida humana - Morte humana”, que ensina a técnica de morrer sem causar problemas. A clínica “Eubios”, que encarna essa filosofia de morte, oferece aos sócios que o desejam, até por via postal, cianureto de potássio, já usado pelos chefões nazistas para a sua auto eliminação. Morte por correio: a tal nível chega a trivialização da morte autoinfligida.
Este rápido acúmulo de dados acima é inequívoco: existe, sim, uma “cultura de morte”, como já não cansava de denunciar São João Paulo II. E a literatura que divulga essa mentalidade nada mais faz que legitimar e, assim, incitar à autodestruição, inclusive por motivos fúteis. Como se vê, a morte é aí banalizada e até mesmo elogiada como “saída honrosa” dessa vida. A morte autoinfligida passa a ser chamada de “morte digna”. O suicídio é apresentado como sinal de coragem, quando, em verdade, mais coragem se necessita para viver a vida cotidiana e mais ainda uma vida “desafortunada”. Ora, uma cultura que dá vivas à própria morte, dá, ao mesmo tempo, prova de inequívoca de “niilismo”, de falta de sentido da vida.
Precisamos falar de suicídio. Precisamos falar do niilismo – a falta de sentido de vida. Precisamos falar de Deus e o sentido da vida que tem Nele, o início e o fim.
Dom Jacinto Bergmann, Arcebispo Metropolitano da Igreja Católica de Pelotas